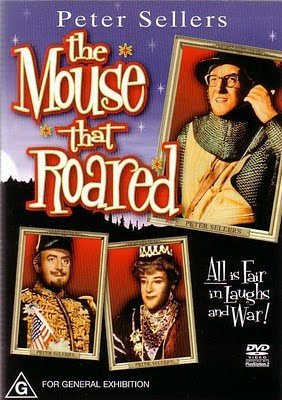Selma Barcellos
Não faz muito, Keith Jarett abandonou o palco da Sala São Paulo desculpando-se com os que não o fotografaram, mas havia sido expressamente pedido que não o fizessem. Fernanda Montenegro, tentando inovar, substituiu as três tradicionais batidinhas de Molière por três pedidos seguidos para que desligassem o celular. No último deles, até simpático, perguntava: “Vocês têm certeza de que desligaram?”. Perguntem se tocou algum.
É impressionante como a arrogância, a esperteza e a incivilidade de certos idiotas conseguem estragar nosso prazer. Outro dia, no cinema, fui vítima do “golpe da poltrona”. Com o assento previamente escolhido – sempre na ponta por causa das pernas compridas – , eis que o jovem casal vizinho me pede para trocar porque a moça estava enjoada e, se precisasse ir ao banheiro, não iria me incomodar. Concordei apiedada. Não é que a criatura não se levantou nem uma vez e ainda gargalhou o filme inteirinho? E eu ali, enlatada.
De outra feita, assistindo a um drama longo, denso, cheio de avanços e recuos na narrativa, não consegui me concentrar. Saí sem saber “quem matou Odete Roitman”, acreditam? Criatura ao lado passou os 138 minutos saboreando lentamente seu gigapacote de pipoca. A cada unidade que garimpava no saco, o papel fazia barulho. A cada engolida, ela se contorcia para pegar e recolocar o refrigerante naquele maldito buraco no braço da poltrona. Ao acabar, ainda ficou um tempão amassando as embalagens. O acompanhante? Dormia. Roncava! Como um temporizador, ela o cutucava. E eu estremecia.
Queridos, esta adoradora da telona e do escurinho do cinema joga a toalha.
Aquele “em breve, numa sala perto de você” será ao pé da letra. Sala de casa mesmo.